Criticado pelos incêndios na Amazônia, o governo Jair Bolsonaro diz ser vítima de uma campanha no exterior, na qual o discurso ambientalista serviria de pretexto para interesses econômicos de outros países na região e buscaria enfraquecer o agronegócio brasileiro diante de competidores.
João Fellet | BBC News Brasil em São Paulo
Um dos objetivos dessa campanha, segundo o governo, seria questionar a soberania do Brasil sobre a Amazônia, abrindo o caminho para a sua internacionalização ou para a criação de Estados autônomos em terras indígenas.
 |
| Militares no governo dizem haver "estranha coincidência" entre terras indígenas demarcadas e reservas minerais | EXÉRCITO BRASILEIRO |
A tese, que ecoa antigas preocupações das Forças Armadas, teve bastante projeção na ditadura militar (1964-85). Ela se ampara, em parte, em momentos históricos em que estrangeiros cobiçaram as riquezas da Amazônia e nos discursos de agricultores europeus e americanos que defendem a preservação da floresta por temerem a expansão da produção brasileira.
Mas o argumento não leva em conta as várias ocasiões em que estrangeiros investiram na Amazônia com a concordância do Brasil – como o próprio governo Bolsonaro tem estimulado – e o crescente movimento que vê a proteção de florestas tropicais como crucial para mitigar o aquecimento global.
A posição também tende a ignorar o papel que brasileiros - entre os quais indígenas e geólogos - tiveram no arranjo legal que resultou na demarcação de grandes terras indígenas na Amazônia, várias delas em áreas ricas em minérios.
Cooptação de indígenas
Na tese de doutorado "Amazônia: pensamento e presença militar", a cientista política Adriana Aparecido Marques, professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), conta que os temores das Forças Armadas quanto à cooptação de indígenas por estrangeiros remontam à época em que a Amazônia teve suas fronteiras demarcadas, no Brasil Colônia.
Marques diz que "os fardados temem que os indígenas contemporâneos ajam como alguns de seus antepassados, que, no passado, aliaram-se a ingleses, holandeses e franceses que pretendiam conquistar terras na região".
Há ainda o receio de que indígenas busquem alianças com grupos não estatais que queiram mudar a ordem política local, como a que uniu indígenas Mura a revoltosos na Cabanagem (1835-1840), no Pará.
"A percepção de que a soberania brasileira sobre a região está ameaçada", escreve Marques, "não é recente e nem pode ser reduzida a uma mera resposta dos militares brasileiros aos constrangimentos impostos pelo sistema internacional".
Líderes estrangeiros
"A ameaça à soberania brasileira na Amazônia de fato existe e, de vez em quando, ela floresce", diz à BBC News Brasil o general de reserva Humberto Madeira, hoje chefe de gabinete do deputado federal Coronel Armando (PSL-RJ).
O general, que passou a maior parte de sua carreira militar na região, diz que os temores se justificam pelos conflitos e revoltas do passado e por declarações de líderes estrangeiros que veem a floresta como um bem global. "Isso nos deixa bastante preocupados", afirma.
Quando foi presidente da França, entre 1981 e 1995, François Miterrand defendeu a visão de que a Amazônia era um "patrimônio da humanidade". A tese foi reciclada pelo atual presidente francês, Emmanuel Macron, que se referiu à Amazônia como "nosso bem comum" ao criticar os incêndios na floresta nas últimas semanas.
Macron lembrou que a França também é um país amazônico por meio da Guiana Francesa – território francês que faz fronteira com o Brasil. No domingo, ao retomar o tema na reunião do G7, o presidente francês disse respeitar a soberania dos demais países amazônicos.
Segundo Anthony Pereira, diretor do Brazil Institute da Universidade King's College, em Londres, a tese de que a Amazônia "pertence ao mundo" não é nova.
"No livro a Diplomacia na Construção do Brasil 1750-2016, o ex-embaixador Rubens Ricupero escreve sobre o conflito entre Brasil, de um lado, e Estados Unidos, França e Reino Unido, do outro, sobre o acesso ao rio Amazonas nas décadas de 1850 e 1860. Essas três potências argumentavam que, sob o espírito do livre comércio e do liberalismo, suas embarcações deveriam ter o direito de navegar pelo rio. O governo brasileiro finalmente abriu o rio à navegação internacional em 1866", disse.
Colonização da Amazônia
Adriana Aparecido Marques, da UFRJ, afirma em sua tese que os militares brasileiros se veem como sucessores dos colonizadores portugueses em relação à Amazônia e compartilham da crença de que a região precisa ser ocupada por não indígenas para que o país não a perca.
Porém, a destruição causada por essa ocupação – que historicamente inclui a abertura de estradas, a construção de hidrelétricas e a expansão da agropecuária e da mineração – acaba alimentando no exterior a polêmica tese de que a Amazônia deve ser tratada como um "bem comum" da humanidade, e não apenas um território do Brasil.
Christopher Sabatini, especialista em América Latina no centro de pesquisas Chatham House, em Londres, disse à BBC que países ricos tratam a Amazônia com "arrogância".
"Os países que, em seu processo de desenvolvimento, contribuíram com as emissões de gás carbônico agora querem proteger a Amazônia. Eles poluíram nos últimos dois séculos. É uma visão colonialista", afirmou à BBC News Brasil.
Política indigenista
A visão de que a estratégia de colonização da Amazônia segue válida ainda tem defensores nas Forças Armadas.
Em 2008, o então comandante militar da Amazônia e hoje ministro do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência, general Augusto Heleno, disse que a política indigenista brasileira deveria ser revista por estar "completamente dissociada do histórico de colonização do nosso país".
Heleno se referia à demarcação de terras indígenas, que impediria a ocupação de partes do território nacional por não índios. "Como um brasileiro não pode entrar numa terra porque é terra indígena?", questionou o general.
É preciso de autorização da Funai para entrar em uma das 567 terras indígenas, embora nem sempre a norma seja respeitada. Entre as principais justificativas estão impedir o contágio por doenças que poderiam dizimar as comunidades e evitar invasões por grileiros. A restrição não vale para as Forças Armadas, que podem entrar em qualquer terra indígena. Muitos pelotões do Exército ficam inclusive dentro dessas áreas.
Apesar da persistência dessas visões, Marques afirma que a desconfiança das Forças Armadas em relação às comunidades nativas vem diminuindo nas últimas décadas à medida que o Exército passou a recrutar mais indígenas como soldados. Hoje vários pelotões do Exército em regiões de fronteira são compostos, em sua maioria, por indígenas.
"A necessidade de aprender com os nativos para combater um possível invasor estrangeiro faz com que o Exército procure incorporar, cada vez mais, indígenas em seu efetivo (...). O fato é que o desempenho dos soldados de origem indígena nos exercícios de sobrevivência na selva fez com que os militares revissem algumas de suas visões acerca da cultura nativa", escreve a professora.
Interesse pela borracha
Os temores quanto à soberania brasileira sobre a Amazônia cresceram no século 20, ao longo do qual várias comissões parlamentares foram criadas para investigar o tema, segundo um artigo do cientista social João Roberto Martins, professor da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar-SP).
Na primeira metade do século, governos e investidores estrangeiros passaram a mirar o potencial da região para a produção de borracha, cuja principal matéria-prima advinha de uma árvore local, a seringueira.
Atento ao interesse, o governo Getúlio Vargas negociou com os EUA em 1940 um acordo para fornecer látex para as Forças Armadas americanas durante a Segunda Guerra Mundial (1939-45) e interromper as exportações para os países do Eixo (Alemanha, Japão e Itália).
Anos antes, em 1927, o empresário americano Henry Ford havia fechado um acordo com o então governador do Pará para a construção de um complexo agroindustrial que suprisse a demanda da montadora por pneus. O empreendimento, batizado de Fordlândia, quebrou e foi abandonado em 1945.
Outra tentativa estrangeira com aval governamental de instalar um complexo industrial na Amazônia foi o projeto Jari, que ocupava uma área equivalente à de Sergipe em partes do Pará e do Amapá. Liderado pelo empresário americano Daniel Keith Ludwig, o empreendimento envolvia atividades industriais, agrícolas e a extração de minérios e madeira.
O projeto começou em 1967 com o apoio da ditadura militar, mas os fracos resultados fizeram Ludwig abandoná-lo em 1982.
A Amazônia foi cobiçada também pelo magnata Nelson Rockefeller, que posteriormente se tornaria vice-presidente dos EUA e via na floresta uma "reserva gigante de matérias-primas" para suas indústrias.
Mas ele abriu mão dos planos de investir na região após ser desencorajado pela Casa Branca, para quem o empreendimento poderia incomodar o governo Vargas e prejudicar a relação entre os dois países.
O caso, narrado no livro "Thy Will Be Done: The Conquest of the Amazon" (Seja feita a Vossa vontade: a conquista da Amazônia, de Gerard Colby e Charlotte Dennett), indica que o governo dos EUA sabe há muito tempo que a Amazônia é um tema sensível para brasileiros.
Em 2009, o então embaixador americano no Brasil, Clifford Sobel, disse em um telegrama diplomático revelado pelo Wikileaks que militares brasileiros têm o que ele chamou de "paranoia" em relação a ONGs que atuam na região, vendo-as "como ameaças potenciais à soberania" do país.
Bush e Thatcher
Episódios posteriores à Segunda Guerra ampliaram o receio dos militares sobre interferências estrangeiras na Amazônia, conforme atestam várias monografias publicadas pela Escola de Comando e Estado-Maior do Exército.
Uma delas, escrita em 2000 pelo coronel reformado Alei Salim Magluf, lista ocasiões em que líderes de outros países teriam agido para proteger seus interesses na região.
Magluf cita a pressão que o então presidente dos EUA, George W. Bush, fez para impedir que o Japão financiasse a pavimentação da rodovia BR-364. A obra abriria uma nova rota para a exportação de grãos, o que aumentaria a competitividade da produção brasileira frente a agricultores americanos.
Ele também menciona no trabalho o apoio da então premiê britânica Margaret Thatcher à vinculação da dívida externa de países emergentes – entre os quais o Brasil – à venda de recursos naturais, o que reduziria o poder do Brasil em decidir o que fazer com as riquezas amazônicas.
Mais recentemente, entraram na lista de temores sobre a ingerência indevida na Amazônia atos e discursos de agricultores que competem com produtores brasileiros.
Em 2017, começou a circular no Brasil um relatório produzido por uma consultoria a pedido da National Farmers Union, um dos principais sindicatos de agricultores dos EUA.
Intitulado "Farms here, forest there" (fazendas aqui, florestas lá), o documento diz que a destruição de matas tropicais provocou uma "expansão dramática na produção de commodities que competem diretamente com produtos americanos".
O relatório defende que os EUA promovam a conservação de florestas tropicais por meio de políticas climáticas, o que favoreceria agricultores e madeireiros americanos. Segundo a publicação, o fim do desmatamento nessas áreas faria com que agricultores americanos ganhassem entre US$ 190 bilhões e US$ 270 bilhões adicionais de 2012 a 2030.
Para o engenheiro agrônomo Luis Fernando Guedes Pinto, gerente de certificação agrícola do Imaflora, não existe nenhuma aliança entre ambientalistas pró-Amazônia e agricultores americanos – ainda que a agenda ambiental possa ser usada por competidores do agronegócio nacional.
"O Brasil tem uma importância enorme no comércio global de commodities e nossos competidores podem, sim, usar questões ambientais para tentar diminuir nossa competitividade. Mas isso não tem nada a ver com a motivação de ambientalistas, que baseiam sua atuação em argumentos científicos sobre a importância de preservar a floresta", afirma.
A causa amazônica transcende questões comerciais e mobiliza muitos outros países que não disputam com a agricultura nacional, caso, por exemplo, da Alemanha e da Noruega, os principais doadores do Fundo Amazônia.
Além de abrigar a maior biodiversidade do mundo, a floresta é vista com um imenso depósito de carbono num momento em que o mundo tenta reduzir suas emissões de CO². Preservar a Amazônia significa impedir que se injete ainda mais carbono na atmosfera, pois a derrubada de matas tropicais é uma das principais fontes dessas emissões.
Barreiras não tarifárias
Nas últimas semanas, após a União Europeia e o Mercosul concluírem negociações para um acordo comercial, agricultores europeus endossaram as críticas ao agronegócio brasileiro, associando-o a práticas sanitárias, trabalhistas e ambientais pouco rigorosas.
Agricultores e pecuaristas brasileiros refutam as críticas e dizem seguir padrões tão ou mais rigorosos que os europeus.
Para o general Eduardo Villas Bôas, que comandou o Exército entre 2015 e 2019 e hoje é assessor do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, as objeções à agricultura brasileira buscam legitimar a adoção de barreiras não tarifárias contra produtos nacionais.
"Quando a inteligência brasileira, englobando a imprensa, universidade e partidos políticos, entenderá que essas são as ferramentas empregadas pelo imperialismo moderno?", questionou o general no Twitter, no último dia 11.
As críticas ao acordo comercial uniram agricultores e ambientalistas europeus. A aliança reforçou a tese – difundida por parte do governo brasileiro – de que ONGs estrangeiras que pregam a preservação da Amazônia e a demarcação de terras indígenas estariam, no fundo, defendendo interesses econômicos de seus países de origem.
Para o general de reserva Humberto Madeira, ambientalistas que defendem a preservação da Amazônia podem até "estar legitimamente preocupados com a floresta". "O sujeito que está lá na ponta pode ser tão idealista quanto nós (militares), mas acaba sendo manipulado pelos dirigentes das ONGs, que decidem suas estratégias alinhadas com os interesses econômicos de seus países e financiadores."
O general não quis citar nomes de ONGs que atuariam dessa forma nem apresentou provas.
Para o Greenpeace, uma das principais ONGs ambientalistas estrangeiras em ação no Brasil, os argumentos são falsos.
"Desde que Bolsonaro tomou posse, ele vem tomando atitudes que estão promovendo um desmonte da política ambiental do Brasil", diz Luiza Lima, da campanha de Políticas Públicas do Greenpeace.
"Quando ele busca encontrar outros culpados para as críticas que vem recebendo, ele está tentando esconder a verdade, que são seus interesses em relação à destruição da floresta."
Lima diz que as políticas de Bolsonaro para a Amazônia têm sido criticadas não só por ambientalistas e governos estrangeiros, mas até mesmo por partes do agronegócio brasileiro, que temem as consequências do desmatamento para seus negócios e a imagem do país.
'Instrumentos de estrangeiros'
Em sua tese de doutorado, a cientista política Adriana Aparecido Marques diz que as Forças Armadas acreditam que as ONGs estariam contribuindo com a desnacionalização da Amazônia, pois suas denúncias poderiam ser utilizadas como pretexto para intervenções militares na região.
Para ela, os militares veem os indígenas como "instrumentos de estrangeiros mal intencionados" e não reconhecem a participação que eles tiveram na demarcação de suas terras.
A hipótese de intervenções militares na região foi, inclusive, tema do artigo "Quem vai invadir o Brasil para salvar a Amazônia?", do professor de Relações Internacionais da Universidade de Harvard Stephen M. Walt, no site da revista Foreign Policy, no início de agosto.
"Os países têm o direito – ou até a obrigação – de intervir numa nação estrangeira para evitar que ela cause dano irreversível e potencialmente catastrófico ao meio ambiente?", questionou Walt no texto, que causou grande polêmica.
Ele cita um cenário hipotético no qual, em 2025, os EUA ameaçariam atacar o Brasil por ampliar a exploração da Amazônia e pôr em risco "um recurso global" crucial. Walt diz ter levantado essa hipótese baseado na postura de Bolsonaro quanto à Amazônia.
Indígenas como 'inocentes frágeis'
Artionka Capiberibe, professora de Antropologia da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), diz à BBC News Brasil que o discurso sobre a manipulação de indígenas por ONGs erroneamente os apresenta como "inocentes frágeis", ignorando seu papel no processo histórico que abriu o caminho para a demarcação de grandes reservas.
Capiberibe diz que, durante a Assembleia Constituinte, líderes como Ailton Krenak, Mário Juruna, Paulinho Paiakã e Raoni Metuktire tornaram a causa indígena um assunto nacional, angariando apoios para que a Constituição de 1988 reconhecesse uma série de direitos que até então eram negados aos grupos.
Antes da aprovação da Carta, o Estado brasileiro tinha a perspectiva de que os indígenas se misturariam com outros brasileiros e acabariam assimilados pela sociedade, logo, não seria necessário lhes demarcar grandes áreas.
Mas a Constituição impôs um novo entendimento. Ao reconhecer o direito dos indígenas à reprodução física e cultural, a Carta abriu o caminho para a demarcação de terras extensas na Amazônia, onde as comunidades pudessem manter tradições como a caça, a pesca e a abertura de roças, além de mudar suas aldeias de lugar periodicamente.
Adriana Marques, da UFRJ, escreve em sua tese que os militares não são totalmente contrários à demarcação de terras indígenas, mas questionam a chamada "demarcação em área contínua".
"Os principais argumentos dos fardados para se contrapor a este tipo de demarcação são a extensão das terras reivindicadas, sua localização, já que algumas das reservas demarcadas estão próximas à faixa de fronteira, e a possibilidade dessas terras de tornarem o embrião de um estado autônomo."
Há ainda críticas à demarcação de terras indígenas em áreas ricas em minérios. Em 2017, o general Villas Bôas afirmou no Senado que o Exército tem levantamentos sobre o que ele chamou de "estranha coincidência" entre terras indígenas e reservas minerais.
Para ele, outros países seriam os principais interessados nessas demarcações. "Eles trabalham no sentido de neutralizar áreas, amortecer, já que não têm a capacidade de explorar imediatamente. E ficam esperando certamente momentos oportunos para buscar essas oportunidades", disse o general.
Mineradoras canadenses
Villas Bôas afirmou que grande parte da pressão internacional pela preservação da Amazônia vem do Canadá, país que é sede de grandes mineradoras e que abriga uma Bolsa de Futuros para o setor.
Mineradoras canadenses têm tentado expandir a atuação na Amazônia e, em alguns casos, vêm enfrentando dificuldades justamente por causa da demarcação de terras indígenas na região.
É o caso da mineradora Belo Sun, que tenta instalar a maior mina de ouro a céu aberto do Brasil na região da Volta Grande do Xingu, no Pará. Em 2017, a Justiça suspendeu o licenciamento da mina em meio à pressão de ONGs ambientalistas, indígenas e ribeirinhos contrários ao empreendimento.
Se uma ala do governo vê com reserva os interesses do Canadá em relação à Amazônia, outra ala quer que as mineradoras canadenses e de outros países explorem minérios no Brasil – inclusive dentro de terras indígenas.
Em março, o ministro das Minas e Energia, Bento Albuquerque, viajou para o Canadá para um congresso de mineradoras. No evento, ele disse a executivos canadenses, em um episódio que gerou forte reação no Brasil, que o governo pretende legalizar a exploração mineral em terras indígenas. A medida – rejeitada pelas principais associações indígenas brasileiras – depende da aprovação de um projeto de lei pelo Congresso.
O presidente Jair Bolsonaro também quer parcerias com estrangeiros para explorar minérios em áreas indígenas. Ao se referir à indicação de seu filho, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), ao cargo de embaixador em Washington, ele citou as riquezas da Terra Indígena Yanomami, em Roraima.
"Se junta com a (Terra Indígena) Raposa-Serra do Sol, é um absurdo o que temos de minerais ali. Estou procurando o 'Primeiro Mundo' para explorar essas áreas em parceria e agregando valor", disse.
Para Artionka Capiberibe, da Unicamp, a postura do governo é contraditória. "Por um lado, eles dizem que as demarcações de terras indígenas atendem aos interesses de estrangeiros. Por outro, propõem abrir essas terras para a exploração por estrangeiros", ela diz à BBC News Brasil.
'Estranha coincidência'
Um depoimento da professora de Antropologia da USP Manuela Carneiro da Cunha ao livro "Os índios e a Constituição", lançado em agosto, sugere que, ao contrário do que afirma o general Villas Bôas, a presença de reservas minerais em terras indígenas demarcadas não é uma "estranha coincidência".
Em 1987, Carneiro acompanhou na Constituinte a negociação do capítulo sobre direitos indígenas. Ela afirma que mineradoras faziam um forte lobby para impedir que terras pudessem ser demarcadas em cima de reservas minerais.
Mas a antropóloga diz que a Coordenação Nacional de Geólogos se opunha à entrada das empresas nessas áreas, temendo que as riquezas fossem rapidamente esgotadas sem que a população se beneficiasse.
Segundo Carneiro, os geólogos, imbuídos de um sentimento nacionalista, se aliaram aos indígenas para que as terras demarcadas pudessem coincidir com as reservas minerais. Assim, ambas seriam preservadas.
Ela diz que a aliança facilitou a aprovação do capítulo constitucional sobre os direitos indígenas. Após 1988, foram feitas grandes demarcações – várias em territórios ricos em minérios.
Hoje terras indígenas ocupam 13% do território nacional, muito menos do que antes da chegada dos portugueses, mas mais do que muitos imaginavam ser possível num passado não tão distante.
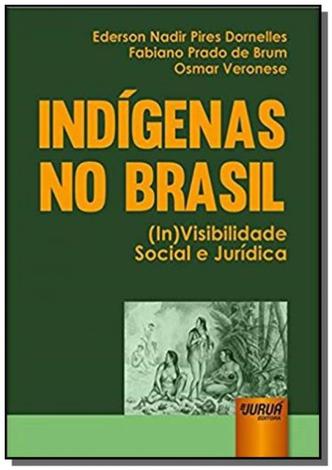 |
Indigenas no brasil - (in)visibilidade social e jurídica - Jurua |
Tags
América Latina
Ásia
Brasil
Canadá
EUA
Europa
França
Guiana Francesa
História
II Guerra Mundial
Inglaterra
Japão
Mercosul
União Europeia
